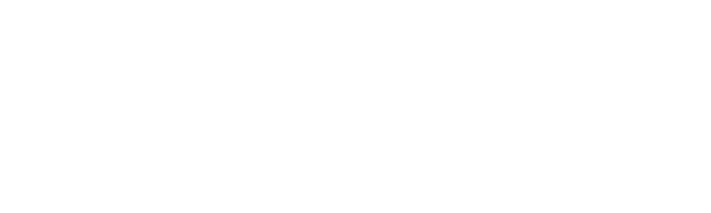APRESENTAÇÃO
A luta pelo direito à cidade tem tomado discussões amplas para entender como a produção desigual do espaço urbano tem gerado altos índices de exclusão social. A invisibilização de grupos desfavorecidos nas pautas e decisões sobre as cidades, hoje, é uma problemática que levanta a importância de se discutir o espaço urbano a partir de uma ótica mais plural, a favor da justiça social, bem como a promoção de direitos historicamente negligenciados a esses grupos. O texto a seguir intui discutir o direito à cidade para comunidades LGBTQIA+, a fim de refletir sobre como as cidades podem superar os estigmas sociais induzidos por preconceitos e violências para serem ambientes mais acolhedores e reinventados para todas as pessoas.
Para compor e apoiar a reflexão deste texto, entrevistamos Gislenne Zamayoa, que é Mulher trans, arquiteta, com dupla nacionalidade (colombiana e mexicana), empresária e ativista na pauta dos direitos trabalhistas para a comunidade trans, além de ser conselheira nacional para o desenvolvimento de políticas de inclusão empresarial para a comunidade LGBTI+.
Aproveitem!
Para questionar a cidade
Andar na rua, ir à praça, transitar entre bairros, ou acessar o transporte público… essas são ações comuns, entre outras, que uma pessoa pode ter dentro da cidade. Porém, para muitos, esse comum é um desafio. Enquanto o país que mais mata pessoas LGBTQIA+ no mundo, o Brasil possui, em suas cidades, o medo imbricado no chão, fixado pela violência que impõe exclusão e insegurança àqueles que se percebem vulnerabilizados frente aos riscos de vida por apenas serem quem são.
O Grupo Gay da Bahia reúne dados a partir de notícias publicadas em meios de comunicação e indicou que, em 2021, a cada 29 horas um assassinato ocorreu contra alguém LGBTI+ no Brasil. A partir dos apontamentos do grupo, homens homossexuais foram os mais atacados no país (153 casos), seguido por transexuais e travestis (110 casos), lésbicas (12 casos), bissexuais e homens trans (4 casos), um acontecimento com uma pessoa não binária e outra com um homem heterossexual confundido como gay.
Já os dados que foram coletados e analisados pelo projeto “Trans Murder Monitoring”, mostram que 2021 foi o ano que mais registrou assassinatos de pessoas transgêneras no mundo. Das 375 mortes, 125 foram casos registrados no Brasil, seguido pelo México com 65 casos. Mundialmente, 36% desses casos ocorreram na rua e 96% das fatalidades ocorreram com mulheres trans e travestis – estas são, dentro da comunidade LGBTI+, as mais vulnerabilizadas e expostas a violências. Além disso, a maioria dos ataques são direcionados a mulheres negras – uma evidência que não foge da realidade de nossas cidades estruturadas pelo racismo.
Esses números apresentados, tanto de ataques a pessoas trans e travestis, quanto à comunidade LGBTI+ como um todo, contudo, demonstram uma evidência limitada da realidade, uma vez que esses são apenas casos relatados e/ou noticiados pela mídia (isso quando são). A realidade é que muitas cidades não sistematizam uma coleta de dados mais robustos sobre a violência contra pessoas LGBTI+ e, mesmo quando estes são notificados, recebem uma atenção irrisória tanto pelo poder público e instituições de segurança, quanto pelos veículos tradicionais da imprensa que, muitas vezes, não expõem casos de trans feminicídio, por exemplo. É possível começar a entender, a partir dessa escassez de dados mais complexos e falta de interesse das mídias e dos governos, como a invisibilização de corpos LGBTI+ começa a se dar no cotidiano.
Gislenne questiona sobre qual é nosso papel enquanto sociedade diante desses números de violência:
“É uma pena que tanto o Brasil quanto o México ocupem essas duas posições [no ranking de países que mais matam pessoas trans e travestis] que não só aterrorizam, como também estabelecem um estigma de intolerância aos olhos do observatório mundial – o que também é uma reflexão para que possamos conhecer e aprender sobre os valores de nossa sociedade em relação ao que é trans, não-binário ou queer. Aqui, só me resta uma reflexão… O que temos que fazer para sair dessas categorias? O que a sociedade precisa aprender para ter mais aceitação [um dos outros]?”

Não é novidade que as cidades, em muitas regiões do mundo, assim como é na américa latina, possuem um alto nível de violência e insegurança nas ruas que afeta toda a população. No entanto, o entendimento que se apresenta aqui é sobre uma violência e crimes de ódio contra a existência daqueles que não condizem com a cis heteronormatividade – que é “a ideia de uma construção de uma sociedade onde a norma é que todos os corpos se desenvolvam para se tornarem cis genêro e heterossexuais” (Rita Von Hunty). Vivemos em um mundo no qual em 69 países é ilegal ser LGBTI+ e em 10 é sujeito a pena de morte. Ainda assim, o Brasil e o México, seguido dos Estados Unidos, que possuem políticas mínimas, mesmo que recentes, que criminalizam a LGBTI+ fobia, seguem sendo os locais mais cruéis contra essa população… Por que?
Na cidade, os que escapam desse padrão social imposto são condicionados a certa marginalização, induzidos à uma maior vulnerabilidade social, que dá consequência à exclusão: quando pensamos na promoção de direitos básicos – como é o direito à cidade, são essas pessoas que sempre se veem deixadas de lado no manejo de questões, sobretudo, em relação à promoção de qualidade de vida urbana, que engloba segurança pública, garantia de acesso à equipamentos públicos, direito de ir e vir, oferta e admissão a empregos dignos, entre outros.
A cidade, ao mesmo tempo que é entendida enquanto esse espaço comum dos encontros e relações que desenvolvem a vida cotidiana, é também a “projeção da sociedade sobre o terreno” (Lefebvre) e, sendo assim, plasma na concretude todas nossas falhas enquanto coletividade. Esse mesmo ambiente urbano que constitui grande parte das convivências dos grupos LGBTI+, muitas vezes enquanto espaço de refúgio para expressão sexual e de identidade de gênero fora de casa, é também o que induz essa população à incerteza de que a rua possa promover segurança, pertencimento e afeto. A rua, nesse caso, que para muitos da comunidade é esse palco possível para expressão de si, paralelamente, torna-se esse lugar do improvável, no qual é “super normal” viver sob alerta em meio à crueldade e injustiça. É “super normal” que muitas vezes seja preciso performar uma outra identidade de si na rua – uma que passe despercebida e esteja mais de acordo à cis héteronormatividade.
Essa não é uma conversa rasa e muitos estudos promovidos pela própria comunidade LGBTI+ sobre o assunto buscam entender como essa violência se reflete no espaço urbano e ataca a qualidade de vida de muitos grupos. Ora, se a rua representa esse espaço de risco à existência de corpos dissidentes, é cada vez mais urgente a necessidade de questionar a maneira que esses lugares são (re)produzidos enquanto espaços de sociabilidade, o que não é tarefa fácil. O espaço urbano historicamente forjado, em maior parte, a partir de um olhar patriarcal, branco, cis héteronormativo, e “cristão”, que dominou (e domina) espaços de poder e política sobre a cidade, representa muito dos elementos que estruturam o imaginário coletivo que é, assim, intoxicado por autoritarismo, intolerância, machismo, opressão, segregação e a consequente invisibilização.
Para exemplificar esse autoritarismo, Gislenne nos conta que muitas cidades latino-americanas, ao serem colonizadas, passaram por uma injunção de pensamento religioso europeu que, a partir daí, corrompeu muito daquilo que hoje poderia ser considerado uma riqueza cultural latina:
“Sempre acreditei que a identidade e expressão de gênero iam além dos sentidos mais íntimos e vulneráveis de nossas próprias fazedoras de cultura e que elas foram corrompidas por pensamentos religiosos, como a exemplo da sociedade teocrática. […] Acho que acredito mais na riqueza pré-hispânica de como nos definimos enquanto raça, com penas, cores, colares e definição de gênero (fomos as travestis da época colonial) – isso deve ter tido muito impacto para alguém europeu com outras conotações de cultura, e que, por sermos diferentes, impôs seu contraste e seus pensamentos religiosos estigmatizantes […]. Acredito que a América Latina e sua cultura seriam onipotentes diante de toda aquela riqueza que perdemos […].”
Para traçarmos rotas em busca de uma cidade mais justa para todas as pessoas, é indispensável, então, repensarmos a maneira que o imaginário coletivo foi e é alimentado até hoje. É preciso entender que este imaginário migra para a prática cotidiana e cultural do espaço urbano e pode, a partir de então, ameaçar o bem estar e a vida desses que escapam da norma cis hétero centrada. Não há como dissociar a reflexão sobre o direito à cidade para comunidades LGBTQIA+ do questionamento sobre o tipo de cidade que temos hoje. Assim, a cidade – que não é um objeto estático, mas um local que “compõe-se de movimento e mudança” (Jane Jacobs), deve ser questionada a partir de muitas perspectivas e considerar todas as transformações e insurgências de novas práticas, estudos e metodologias que alcancem um saber mais plural – e queer – sobre o ambiente urbano do agora.
Não é apenas sobre o direito de amar

Junho data o mês do orgulho LGBTQIA+ no Brasil e é muito comum nesta época a presença de frases como “pelo direito de amar”, ou alguma ideia semelhante que defenda o direito da expressão de afeto à população LGBTI+, em vários veículos de mídia. O que essa ideia transmite, de fato, pode ser verdade para muitos que se identificam. Mas, a conversa acaba aí? É preciso lembrar que os grupos LGBTI+ possuem características, vivências e contextos diferentes entre si e, por isso, a conversa não deve se limitar a uma ideia que outrora só pode servir àqueles que tiveram a experiência do afeto. A pauta mais importante, na prática, é o amor, quando a expectativa de vida de uma pessoa trans é de 35 anos? E como falar de amor quando 90% da população trans está em situação de prostuição? (ANTRA). “O amor não é algo democrático, não é algo possível para todas as pessoas” (Alina Durso) e, sendo assim, a luta pelos direitos da população LGBTI+ deve tangir a realidade como ela é e propor, com fundamento nisso, caminhos para a inclusão e diminuição da exclusão e índices de violência.
Sobre esses caminhos para inclusão, Gislenne, ao exemplificar o México, nos conta que as cidades contemporâneas precisam primeiro repensar seus espaços de poder, a fim de diminuir a segregação social:
“Agora, nossas cidades mudaram e temos outros padrões e regras sociais, hoje acredito que, embora tenhamos avançado no México em políticas e leis de inclusão, precisamos de uma mudança de mentalidade e a única solução é mais inclusão, subtrair espaços de domínio social para a sociedade que, por si só, não deveria ser “sextorizada”. A cidade é de todos, mas talvez esse seja o pior erro das sociedades: o de zoneá-la. Por que pessoas trans não podem estar em espaços de classe alta?”.
Alguns avanços no Brasil, como o reconhecimento pelo STJ de adoção de filhos por casais homossexuais em 2010, ou a criminalização da homofobia e transfobia pelo STF em 2019, entre outros, nos indicam que a luta da comunidade LGBTI+ tem conquistado espaços e visibilidade política. Apesar disso, o avanço nas políticas de inclusão, como o acesso ao mercado de trabalho formal, segue lento. Embora o discurso da “diversidade” seja forte no mês do orgulho e a conscientização sobre a problemática que afeta a comunidade esteja crescendo, as iniciativas seguem pouco práticas, com poucas ofertas direcionadas a vagas de emprego, o que não garante um aumento do índice de empregabilidade, sobretudo, de pessoas trans.
Afinal, como a própria Carta Mundial do Direito à Cidade expõe, esse é um direito coletivo que engloba muitos outros direitos, como o direito a uma vida em família, direito a um padrão de vida adequado, o direito à previdência, saúde, cultura, alimentação, habitação adequada e, entre outros, o direito ao trabalho e condições dignas de trabalho. Mas, como garantir tantos direitos sem antes a sobrevivência? O acesso ao trabalho digno, através das políticas de inclusão, é primordial para que pessoas LGBTI+, sobretudo as mais vulnerabilizadas socialmente, comecem a usufruir, efetivamente, dos direitos básicos e, assim, da cidade.
Gislenne nos conta que muitas empresas estão caminhando, cada vez mais, em busca da inclusão social, através de treinamentos e conscientização, e que isso, além de ajudar o capital privado, pode ser visto como potencial para mitigar o cenário de vulnerabilidade de pessoas trans e travestis em situação de trabalho sexual:
“[…] Cada vez mais, estamos caminhando para um resultado de uma cota trabalhista diversa […]. Esse domínio da reestruturação social em algum momento será visto como mais tolerante, e aqui restaria apenas um dos espaços mais vulneráveis, que é o de “sex work” [trabalho sexual], que infelizmente é o que mantém as altas estatísticas do trans feminicídio. […] Toda empresa ou corporação tem um orçamento anual de capacitação, então por que não fazer estratégias de conscientização e formação, imagem e conceito de inclusão, para além da identidade ou expressão de gênero? Vale a pena? Acredito que sim, pois isso pode dar outros tipos de opções [de trabalho] para mulheres trans que são forçadas ao trabalho sexual.”
Do invisível para a reinvenção urbana
É bem verdade que, ao seguir na luta pelo direito à cidade, os mais vulneráveis precisam ser incluídos nas ofertas de oportunidades e decisões políticas que competem à qualidade de vida na cidade. Entre os mais vulneráveis, a comunidade LGBTI+ sempre esteve na linha de frente das opressões e violências, sobretudo as mulheres trans e travestis que são estigmatizadas (e controversamente desejadas) pelo olhar cis masculino. Muitos estudiosos indicam que é preciso tomar consciência coletiva de todos os processos de lutas sociais para questionarmos o espaço urbano de hoje, a fim de construirmos ambientes mais democráticos. Mas, consideramos aqui, também, a luta pelo direito de existir na rua sem ameaças e poder acessar lugares e exercer a vida cidadã sem precisar esconder a identidade; consideramos o “direito de aparecer em público” (Judith Butler) sem olhares que discriminam, repudiam, excluem e matam.
Gislenne nos conta que uma rua que a proporciona confiança para estar e caminhar, é aquela que:
“Respeite meus direitos como pessoa, como indivíduo, e que eu me sinta amparada para andar com segurança independente de como me visto, como me identifico ou me expresso enquanto gênero.”
Essa cidade que se mostra invisível aos olhos dos que estigmatizam, ferem, e ignoram a realidade desses, cujos gritos ressoam por mais aceitação, direitos e oportunidades, precisa ser aproximada da discussão sobre os problemas e possíveis soluções para o ambiente urbano contemporâneo. As vozes LGBTQIA+, muitas vezes, mais inventivas, eloquentes, provocativas e inquietas, podem auxiliar nessa construção de ambientes mais justos, construção de estratégias e modos de lidar com a cidade antes não imaginados. Ouvir o que uma mulher trans como a Gislenne, por exemplo, tem a dizer a respeito das próprias experiências e perspectivas é um dos passos primordiais para que possamos mitigar as consequências do machismo estruturado em nossas cidades, em busca de regenerar o imaginário coletivo.
Ao compreendermos a comunidade, a relação entre indivíduos, a sinergia coletiva, como objetos de transformação do espaço urbano, admitimos que a pluralidade, portanto, dá vida às cidades. Essa cidade invisível, que é historicamente ignorada, na realidade, possui um potencial transformador para a vida urbana. O colorido, para além da estética das bandeiras LGBTQIA+, pode simbolizar múltiplas possibilidades de ação e mudanças substanciais para a esfera social. A luta pelo direito à cidade, a partir disso, torna-se a luta por uma outra cidade: essa reinventada a partir da equidade, pertencimento e do real afeto: um que ouve, inclui e faz que a cidade seja, genuinamente, para todas as pessoas.
REFERÊNCIAS
LEFEBVRE, Henry. O direito à cidade. São Paulo: Centauro Editora, 2011.
JACOBS, Jane. Morte e Vida de Grandes Cidades. São Paulo: Martins Fontes, 2007.
MACEDO, Gilson. CARVALHO, Claudio. ‘Isto é um lugar de respeito!’: A construção heteronormativa da cidade-armário através da invisibilidade e violência no cotidiano urbano. Revista de Direito à Cidade, vol. 09, nº1.
SILVA, Andréa. SANTOS, Silvana. “O sol não nasce para todos”: uma análise do direito à cidade para os segmentos LGBT. SER Social, vol. 17, nº 37, p. 498-516.
MORTES VIOLENTAS DE LGBT+ NO BRASIL – GRUPO GAY DA BAHIA
TVT TMM UPDATE • TRANS DAY OF REMEMBRANCE 2021
Expectativa de vida de trans no Brasil se equipara com Idade Média, diz advogada | CNN Brasil
(69) Alina Durso | Podcast Lança a Braba #034 – YouTube

Por Augusto Junior. Arquiteto e Urbanista. Assessor de Projetos no Laboratório da Cidade.

Entrevistada: Gislenne Zamayoa, mulher trans, arquiteta, com dupla nacionalidade (colombiana e mexicana), empresária e ativista na pauta dos direitos trabalhistas para a comunidade trans, conselheira nacional para o desenvolvimento de políticas de inclusão empresarial para a comunidade LGBTI+
Cidade da Gente é um projeto desenvolvido em parceria com o CAU/BR.