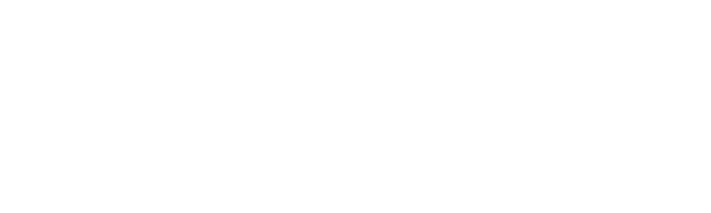Episódio #11: Os desafios das mudanças climáticas para a habitação
LAB: Professora, primeiro eu queria agradecer sua presença. É uma honra te ter aqui! Esse episódio vai tratar sobre emergência climática. A gente está sentindo, vivenciando e testemunhando uma série de ocorrências em cidades no mundo inteiro e aqui e queremos conversar um pouco sobre os impactos dessas mudanças em Belém, especificamente. Os impactos nas cidades são mais sentidos pelos moradores das periferias – a gente pode citar as ilhas de calor, os alagamentos e algumas doenças vetoriais como exemplo. Como a maneira que a cidade de Belém foi ocupada contribui para isso?
ANA CLÁUDIA: Bom, eu também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês e poder fazer essa partilha. Acho que para eu te responder, preciso trabalhar alguns conteúdos antes. Primeiro é que a gente tá na Amazônia, uma área bem diferenciada com relação a base geofísica plana, que é plana. Tem um solo em formação de várzea que está sempre sujeito a uma dinâmica muito própria da natureza, né?
Então, temos aqui um ciclo de águas diferenciado, muito mais volume de água, chuvas, toda uma modulação climática bastante própria. No entanto, Belém tem essa condição de metrópole histórica: ela foi construída pelo colonizador europeu para criar aqui a possibilidade de controlar o território e também estabelecer, introduzir novos valores e práticas.
Ora, se antes a ocupação milenar indígena era caracterizada por um padrão de pequenas aglomerações dispersas, distantes entre si e que constituíam um gradiente de território manejado entre o rio e a floresta profunda, o colonizador vai trazer uma outra visão, um outro repertório. Eles vieram pra cá para fazer plantation, para introduzir cidades e vilas. E na cidade, no caso de Belém, em particular, a gente vai assistir a introdução de novas práticas. Por exemplo: a canalização de rios, o aterro e toda uma construção de que era necessário dominar a natureza – dominar e subjugar – então isso deu o tom inicial.
Desde então, temos sofrido com suscetíveis colonizações. Hoje está muito claro que, no século XX, nós tivemos a Amazônia colonizada pelos brasileiros sudestinos dentro de um projeto de integração nacional. A gente vai observar, então, o acúmulo de omissões anteriores, né? Porque tinha uma estrutura em que Belém se destacava, durante mais de três séculos, como cidade onde todos os serviços eram concentrados e nas outras localidades havia muita dificuldade para acessar educação, equipamento de saúde.
Essa omissão vai ser um fator histórico de imigração para Belém e vai ter a ação dos governos, particularmente o Governo Federal, planejando uma transformação para região que não tem nenhuma formulação para as cidades. A abertura de rodovias, a construção de hidrelétricas, a introdução da mineração, a exploração de madeira; tudo isso vai trazer muita gente.
Antes disso, a reforma agrária que trouxe milhões de migrantes nos anos 70. E quando vivenciamos isso nos anos 80 – o impacto da Crise do Petróleo – quando o Governo Brasileiro quebrou e todas essas obras foram paralisadas, não conseguimos concluir o que estava previsto nos grandes projetos. Hoje temos a mineração privatizada, então, aquela concepção da época do desenvolvimentismo foi completamente desmantelada e o compromisso de que isso pudesse gerar um benefício para a população foi esquecido.
Nos anos 80, Belém teve um crescimento populacional três vezes superior à média brasileira, foi inclusive chamada de capital das invasões. A gente vai perceber ali que aconteceu a sobreposição da migração regional – que vinha em função da necessidade de acessos a serviços e equipamentos – e dessa migração por busca de oportunidade de trabalhos, em função de toda a reestruturação que acontecia no campo.
O fato é que o repertório da ocupação informal é uma adaptação daquilo que se fazia nas margens do rio. A gente nunca observou melhor isso, não foi feito nenhum tipo de pesquisa para entender e tentar identificar como atuar melhor usando esse repertório de várzea. Durante o séc. XX, todo mundo achava que precisava trabalhar com a tecnologia para mudar tudo. A gente tinha uma base muito mecânica, química e ficou parecendo que essa ocupação dos pobres era uma coisa a ser superada.
Bem, estamos nós aqui no século XXI, a gente tá vivendo, sim, uma situação de emergência climática. O relatório que foi apresentado pela ONU e pelo IPCC deixa bem clara a situação e já tem algumas décadas que a gente sabe que a população mais pobre é sempre aquela afetada primeiro e mais gravemente, porque ela acumula vulnerabilidades, depende da natureza. Para quem depende de compreender bem o ciclo de chuvas e de secas, o movimento de marés para trabalhar no seu ofício cotidiano, ver isso se modificar completamente somado às contaminações, aos processos de degradação associados às novas atividades que foram introduzidas na região, né?
A gente vai observar comunidades quilombolas que estão com seus rios contaminados, vai encontrar a situação de diversos rios importantes na Amazônia contaminados por mercúrio em função de garimpo. Tem aí uma situação em que essas populações, que vivem em comunidades fora da área que a gente reconhece como cidade, estão se inviabilizando. E essa população está vindo para cidade, para periferia da cidade.
Na periferia como muitas vezes nunca houve uma ação de reflexão e planejamento em relação a como lidar com isso – porque isso não era possível entender a partir da cidade – precisa de uma visão multiescalar para entender essas articulações. Então, a gente acabou permitindo que, por um lado, a cidade acomodasse essa população que veio. Belém sempre foi muito aberta nesse aspecto, muitos bairros se formaram nas áreas de baixadas. Esses bairros hoje estão consolidados como populares, mas a gente sabe que pela condição geofísica de Belém, se forem confirmados os cenários colocados de elevação do nível do mar, essas áreas serão as primeiras a serem afetadas.
Assim como a gente já percebe que tem uma outra via: não somente a elevação das águas, mas a mudança no regime de chuvas já está criando uma situação de maior vulnerabilidade nos bairros de baixadas também porque agora a chuva está muito intensa e concentrada em poucos dias. Isso cria um volume de água que alaga os bairros que nunca tiveram a previsão de infraestrutura adequada e tiveram um super adensamento. Enfim, aquela situação de ciclo vicioso.
Essa população que está fora das cidades, nas comunidades lá do entorno no espaço periurbano, também é mais vulnerável e isso acaba sendo extremamente significativo no nosso contexto porque Belém é a capital brasileira que tem a maior extensão de produção informal do seu território.
A questão do desmatamento também no entorno da cidade tem favorecido fenômenos como inversão térmica, ilhas de calor. A percepção térmica das pessoas já indica um desconforto muito maior porque a gente tá eliminando os interstícios que os indígenas e os povos originários sempre mantiveram entre as aglomerações, sempre controlaram o tamanho, mantiveram uma relação com as várzeas que permitisse o fluxo das águas e trabalharam esse manejo da vegetação entre assentamentos. Um repertório que o colonizador desvalorizou e fez desaparecer, especialmente naquelas áreas que são as consideradas mais dinâmicas, que receberam mais migração de pessoas de outras regiões. Agora no séc. XXI está muito claro que as soluções só séc. XX não nos atendem mais.
Então, o séc. XX promoveu o acirramento dessa situação e nós precisamos olhar para outros tempos, quando essas soluções conseguiam perdurar e seria necessário a gente usar a nossa capacidade de adaptação e inovação para, a partir daquilo que sempre funcionou na região, buscar novos horizontes.
LAB: A gente sabe que Belém tem uma ocupação diferenciada nas baixadas, ela está permanentemente sob maior exposição dos riscos ambientais. Pegando o gancho dessa mudança de formas de ocupar, a gente observa o processo de supressão de áreas verdes – um exemplo são as reduções dos quintais, deixando esse solo urbano cada vez mais impermeabilizado. De que forma a senhora acha que isso agrava ainda mais o problema?
ANA CLAUDIA: Vamos continuar nessa trajetória do repertório externo porque a colonização inicia com lotes muito longos, então nós tínhamos aqui já reportado pela historiografia uma rejeição muito grande do português a essa exuberância de vegetação nos espaços internos da cidade, nos espaços públicos.
Se a gente comparar cidades como as nossas com cidades anglo-saxônicas que sempre mantiveram aquelas áreas de massa vegetal muito grande, priorizaram a construção desses espaços comuns de vegetação, isso é bem da cultura anglo-saxônica. A cultura portuguesa ibérica não é assim, a praça espanhola e portuguesa é pavimentada, mas eles tinham uma sensibilidade muito grande a essa questão do clima com a maneira como as habitações eram construídas.
Então, a casa com porão, com forro vazado, com quintal muito grande tinha ali uma certa coerência com esse aspecto bioclimático. A gente vai observar que isso vai ser modificado no decorrer do tempo e especialmente quando, no séc. XX, cada vez mais o mercado orienta o processo de expansão e adensamento da cidade; vai assistir nas últimas décadas, a partir do processo de integração da Amazônia, uma força maior de expansão se estabelecer.
Assim, há quem diga que houve uma situação de estagnação depois do ciclo da borracha que criou uma situação muito inusitada de que era possível reproduzir aquilo que vinha nas sociedades industriais, estando numa sociedade mercantil de base extrativista. Então, as pessoas nunca entenderam que era melhor nós desenvolvermos soluções próprias, a nossa burguesia entendeu que era importante trazer aquilo que eles achavam de mais qualidade da cidade europeia para cá e a gente vai ter a percepção de que quando isso não for mais possível, nós teremos involuído nesse período.
Foi aquele período interessantíssimo da adaptação, ali nós teríamos que ter feito a mescla dos repertórios que chegavam com aquilo que já funcionava e aquilo poderia ter nos preparado para um outro momento de expansão que vai acontecer a partir da abertura da rodovia Belém-Brasília. A gente vai encontrar na segunda metade do século XX, uma situação de transformação do nosso padrão de expansão, a introdução dos conjuntos habitacionais, a ocupação das fachadas, a verticalização de áreas que já eram consolidadas.
Aí tem uma implosão da cidade que já existia com a alteração do parcelamento, começa ali a se utilizar o quintal que tinha se mantido possivelmente como uma referência ao quintal que existe nas casas ribeirinhas das nossas ilhas. É um elemento importante do arranjo espacial ribeirinho, aquela área que fica ao redor da casa onde as frutíferas são plantadas. Tem uma questão cultural e a gente traz a visão do mercado como prioritária e esquece toda e qualquer conotação cultural, ambiental.
E vai permitir que aquela área da cidade que já é consolidada se transforme em um espaço cada vez mais impermeabilizado em função das novas tipologias construtivas. Os prédios com pavimentos de garagem que utilizam praticamente toda área de lote, as situações de remembramento.
Tem aqui uma situação em que essas áreas consolidadas, que são as mais altas na área central de Belém, se impermeabilizam, impedem que a absorção da água aconteça e fazem com que a velocidade da água da chuva se acelere cada vez mais e vai desaguar nas baixadas, criando uma situação de maior vulnerabilidades para o habitante que tá lá.
A gente tá repetindo isso no âmbito metropolitano, então, bacias que tem ainda uma situação adequada – em termos de permeabilidade do solo – estão seguindo numa intensidade, num espaço de tempo muito mais curto, a mesma trajetória das bacias que estão aqui dentro da central de Belém. Tem aí uma situação de gestão de uso e ocupação do solo, de gestão da conversão de uso.
A gente tem permitido que o setor imobiliário lidere a tomada de decisão e estabeleça quais são as áreas que serão convertidas e ocupe justamente os solos mais altos, que são aqueles onde a água tinha que ser retida com prioridade para que não agrave a situação de risco que já existe nas áreas de ocupação de baixada.
Não bastando isso, não há atenção para a necessidade de vegetação dentro da mancha urbana. Se a gente for observar, a política que foi trazida também pelo colonizador de relacionamento com a natureza e aquela de definição de áreas de conservação estabelecidas por polígonos – como ilhas – vai observar, por exemplo, na mancha urbana da região metropolitana, a porção sul ter sido preservada com um mosaico de várias unidades de conservação. A gente tem APA, tem parque, enfim tem uma certa variação, só que sem gente.
Quando emerge a possibilidade de fazer uma intervenção nesse espaço como essa avenida que tá proposta, há uma possibilidade muito forte que isso seja seguido de ocupação e essas áreas também sejam perdidas. Nós já abrimos mão do quintais, estamos abrindo mão dos interstícios que ainda restam dentro da mancha urbana e corremos o risco de perder essas áreas protegidas que ficam ao sul. Além disso, as nossas ilhas, que formam um cinturão extremamente importante, estão cada vez mais cobiçadas seja para a produção de moradia popular por incapacidade de acesso às pessoas as periferias do continente ou para fazer moradia de luxo.
A gente pode observar lá na ilha do Outeiro como a área que era protegida foi manejada para fazer um condomínio. A construção começa com a supressão vegetal, não tem aqui nenhuma preocupação com essa perda de vegetação. Na dissertação do Thales Miranda, que foi defendida ano passo e ganhou um prêmio da ANPUR, a gente constata que há uma periodicidade de mais ou menos 15 a 20 anos pra gente reduzirá à metade da vegetação na mancha urbana e a gente já tá num nível que se tiver esse curso realmente vai virar um deserto árido.
A cidade inteira tente a ter problema de risco de alagamento porque há uma situação de dependência muito grande só de redes de drenagem que não tem sido suficiente. Vai aumentar cada vez mais o número de chuvas, vai demandar cada vez mais redes de drenagens com situações de manutenção e tudo mais que é custoso porque a gente abriu mão de ter áreas permeáveis. Tem uma situação extremamente grave colocada para Belém e é importante que a gente comece a pensar como todo resto do mundo – que já é mais esclarecido – trabalhar com a malha verde sobre a cidade. A cidade não é uma coisa à parte da natureza, ela é construída sobre um território que tem bacias hidrográficas, ecossistemas e ela precisa se acoplar a isso ao invés de tentar negar que isso existe.
Por todo lugar as tramas de vegetação e rios estão sendo recuperadas e institucionalizadas como áreas protegidas, reconhecidos como um espaço em que a gente promove inclusão social e cultural, à medida que há o trabalho de extrativistas, de agricultores urbanos e uma série de referências identitárias. Aqui a gente não considera esse tema ainda como objeto de planejamento, seja no âmbito municipal ou no âmbito metropolitano, mesmo estando num lugar que a natureza exuberante tenha capacidade de demonstrar seu poder maior do que em outros contextos.
Penso que essa pergunta é muito importante. Essa questão da supressão vegetal parece bobagem, mas está relacionada diretamente à maneira que se faz gestão e ocupação do uso do solo nessa cidade e nos municípios que compõem a área metropolitana. Nós já deveríamos ter uma vinculação do planejamento urbanístico com a situação das bacias, com a condição de permeabilidade do solo, com a compreensão de como esse movimento de águas acontece de uma bairro para outro, antes de aprovar uma coisa específica numa área que aparentemente não tem risco mas o problema é que a cidade é um sistema.
LAB: Interessante professora! Isso levanta essa questão de que tem que haver uma transversalidade entre as agendas climáticas e as políticas urbanas. Vejo na sua fala que muitas dessas questões derivam dessa importação dos modelos de urbanização que são incompatíveis com a nossa realidade local. Vejo que isso se reflete muito nos projetos de habitação populares que são realizados até aqui. Esses projetos muitas vezes desconsideram nossa forma de habitar, a nossa relação com os rios. De que maneira a gente pode melhorar isso? Como qualificar essa habitação resguardando os aspectos locais?
ANA CLAUDIA: Boas perguntas que tu trazes. A questão é assim: até que medida nós temos o protagonismo nesse processo, né? Porque a gente vai observar que essa questão da produção habitacional em larga escala, massificada, se desenvolve a partir do governo militar como uma resposta às demandas que já estavam colocadas por reformas urbanas desde os anos 50. Então, o governo militar já vai criar o BNH e todo esse sistema e isso vai ser uma maneira de fortalecer basicamente a nossas empreiteiras, porque ali já coloca a questão do gerenciamento de obras, a produção industrial da habitação, como uma forma de alavancar essa setor produtivo, então isso foi muito importante nos anos 60, 70.
A gente vai ter empreiteiras brasileiras fazendo coisas no mundo inteiro, a partir dessa trajetória de consolidação, e perdendo o contato com o que era a origem da demanda – que era a vida das pessoas. Então, na reedição do “Minha Casa, Minha Vida”, ficou bastante claro que esse foi um fator que se destacou em relação aos outros, porque as empresas conseguiam atuar nacionalmente controlando a planilha de custo, fazendo uma gestão em larga escala para usar exatamente as mesmas tipologias, porque isso barateia bastante o seu custo e teria sido uma forma de ajudar essa recuperação econômica.
Mas aí a gente vai observando que os arquitetos não fazem parte disso, a pesquisa que tem relação com o território também não consegue alimentar essas iniciativas. Sobre uma certa perspectiva, mantermos a população nas suas formações de vilas e comunidades levando o serviço de transporte, a solução de saneamento, a comunicação, não teria sido seria melhor do que retirá-la de onde ela está e recebê-la como habitante de periferia de cidades que crescem sobre sítios de várzea? Foi aquilo que o mercado não quis e é ali que aquela população que está sofrendo com o êxodo pode se estabelecer.
Nós temos que ter essa visão também muito mais ampla, a visão regional. Tenho que compreender as dinâmicas e entender quem é que tá vindo para as periferias, porque é que tá vindo. Se a gente vai em determinados municípios que estão muito consolidados – por exemplo, quando a gente andou por Cametá, que tem mais de 500 localidades – ficou muito claro como era a dinâmica. Ninguém queria morar na cidade, as pessoas querem chegar para vender sua produção na feira, que é a maior empresa de Cametá, o que é uma situação muito amazônica, e voltar pro seu local que é o seu paraíso.
Então, é preciso que seu local não esteja contaminado, que eles possam continuar com a possibilidade de usufruir da biodiversidade. Na medida em que o clima vai alterando isso, em que globalmente a gente vai sofrendo condições de aumento de temperatura que talvez modifiquem esse padrão de reprodução da biodiversidade, na medida em que intervenções humanas contaminam as águas, a gente está criando uma pressão para que essas pessoas sejam refugiados ambientais.
Elas vão ter que sair do seu local e ir para a periferia da cidade. Aí chegam lá e a gente diz que elas não sabem fazer nada daquilo que a cidade espera delas, mas elas sabem reconhecer diversidade ambiental como ninguém. Tu queres recuperar diversos tipos de feijão, diversos tipos de uma determinada planta é só falar com essas pessoas. É muito comum que elas tenham uma muda em sua casa que trouxeram do seu local. São pessoas que têm um conhecimento que precisa ser fortalecido. A gente vê que essas pessoas sabem muito bem como trabalhar com os limites da natureza e poderiam ser de grande auxílio para que a gente começasse a trabalhar dentro das cidades, soluções para essa nova realidade.
Tem que criar uma condição de diálogo, reconhecer que a técnica que o século XX difundiu precisa recuar e ser corrigida por conhecimento nativo. Tem aqui uma situação em que nós vamos precisar decidir, por exemplo, se a gente permite que a ilha do Combú seja completamente transformada por uma estrada que se pretende fazer lá, ou se seria muito mais interessante para nós manter a ocupação como está e respeitar aquilo como serviço ecossistêmico, no sentido de criar uma barreira ao redor da mancha urbana de Belém, com vegetação e que tem funções que as pessoas que trabalham com a pesquisa sobre o clima já reportaram em artigo.
A equipe da Ima, do Museu, já escreveu a respeito disso, da importância da vegetação nas ilhas no entorno de Belém, então a gente vai observar que precisa reimaginar a nossa forma de enxergar o território. A questão é que é sempre mais fácil manter aquilo que já está em curso do que propor coisas novas, e a gente acha que é mais fácil manter a disposição de dejetos de esgotos nos canais e dessa maneira degradar os rios.
A gente não imagina que poderia criar novas empresas que pudessem fazer manejo desses efluentes de fossas, por exemplo, de uma outra forma para fertilizar o solo ao invés de simplesmente permitir que isso seja lançado nos rios porque “os rios são para isso mesmo”. Já ouvi isso de pessoas que são da área mais técnica, então, precisa difundir o interesse pelas ações regenerativas, em função da nossa necessidade enorme de ter a natureza a nosso favor e não contra nós, mas isso vai depender da maneira como vamos nos relacionar com ela.
Creio que a discussão da habitação é extremamente importante, mas eu pergunto: a gente está fazendo essa habitação para quem? Da onde estão vindo essas pessoas para quem nós estamos produzindo essa moradia? O que aconteceu para fazê-las vir pra esse contexto? Como é que essas pessoas trabalham? Elas pressupõem um movimento de deslocamento para um local de trabalho – como as cidades que foram criadas égide da indústria? Ou essas populações teriam mais facilidade de sustento se tivessem praticando agricultura urbana ou se tivessem criando situações de multiplicação de espécies como horto?
Eu estou aqui apresentando pra vocês não uma questão de não considerar a economia, é uma questão de começar a pensar outras possibilidades econômicas que aproveitem saberes, que imobilizam as áreas necessárias para que a gente consiga mitigar a produção social do risco. Criar algum tipo de capacidade de resiliência a essas transformações todas porque elas vão afetar a todos.
A produção de enormes áreas com centenas de habitações iguaizinhas, afastadas em áreas bastante distantes daquela área que já tem infraestrutura é muito boa para quem está fazendo negócio; não é a melhor solução para quem vai morar. Fica aqui a dica para a gente que trabalha com isso porque nós poderíamos parar, pensar e certamente desenvolver novas soluções. No entanto, esse processo não está passando pelo processo criativo dos arquitetos urbanistas, ele está pautado pelo gerenciamento de obras.
LAB: Excelente, professora! Nosso desafio mesmo está sendo mudar de paradigma, né? A gente sabe que a ODS 11 fala sobre habitação segura para todos – habitação segura no sentido macro. Quais os desafios que a gente tem que enfrentar para atingir esse objetivo?
ANA CLÁUDIA: A gente vê a agenda da ONU trazendo uma série de objetivos relacionados a uma expectativa global de conseguir manter esse modo de vida que está posto. Ninguém está considerando que será mais fácil reduzir a pobreza, a fome, criar uma situação de equidade de gênero, garantir água e solução de saneamento adequada se a gente não transformar os territórios das pessoas, onde elas vivem.
Quando a gente entra no site da ONU, observa que eles estão buscando nesse objetivo no 11 a posição de cidades sustentáveis e comunidades mas raciocinando com essas cidades grandes, com a mancha urbana extensa e aqui eu gostaria de chamar atenção: todas essas proposições que vem da ONU são negociadas para serem genéricas. Elas têm que trabalhar aquilo que é aceitável para todos os países, para que isso amplie as adesões.
Isso também acontece com a questão do IPCC, foram apresentados uma série de cenários mas raramente se faz um diálogo com uma escala local em função disso ter claras implicações políticas. Eles não podem dizer como fazer pois não podem interferir na soberania dos países e na autonomia dos governos, então, a gente vai observar essa marcação. Isso acaba trazendo traços ou elementos na sua concepção que respondem a uma maneira hegemônica de se viver.
É preciso respeitar os espaços que as águas reclamam, que a biodiversidade reclama e, no nosso contexto, isso significaria ter trabalho para uma porção de pessoas que vivem manejando isso. Essa seria uma super sustentabilidade para o nosso contexto, agora isso significa que esses espaços pudessem estar também livre de contaminação de solo, de água. Isso permitiria que a gente pudesse ter situações de manutenção de identidade cultural que é dar a possibilidade de existir para alguém que sempre soube manejar a floresta.
Nós temos a 50, 60 anos difundido tão fortemente uma ideia de quem estava aqui antes era atrasado fazendo o que fazia que hoje, até lá nas comunidades vai encontrar uma divisão de pessoas querendo mudar porque aquilo ali não interessa. A gente não percebe o movimento de desenvolvimento de tecnologias para diminuir a penosidade daquilo que é o trabalho que eles historicamente. Fazem mas não querem mais, acham que agora já precisava ser mais aliviado, então, tinha que ter máquinas, ferramentas, tecnologias, que se acoplarem a essas coisas que já são sabidas para melhorarmos as condições de produção e acabar ali incluindo essas pessoas, social e economicamente, a partir da preservação ambiental.
Teríamos uma possibilidade, desse modo, de desenvolver soluções diversas de habitação e de inserção dentro de contextos urbanos, porque urbano não é (só) cidade. Hoje tá muito claro que aquilo que a gente entende como cidade histórica, que é delimitada com o serviço não é só o urbano, o urbano é muito mais. Quando tem um campo de soja que se transformou num território, porque aquilo vai pra uma fazenda vertical em um prédio na Holanda, está ligado diretamente com o metabolismo urbano da Europa. Assim, a gente vai observar uma série de transformações decorrentes de mineração também está sendo acionadas numa escala de tempo, de recursos que é ligada a urbanização. Aquilo não é dinâmica rural de forma alguma, aquilo é dinâmica industrial que está ali atuando para gerar insumos para um metabolismo urbano situado em um outro continente.
A gente tem aqui na Amazônia situações que são desencadeadas por agentes externos e a Amazônia só será sustentável se ela se permitir ser o que ela é. Enquanto nós tivermos a pauta definida a partir daquilo que a gente vai exportar para “a”, “b” ou “c” ou enquanto estiverem recebendo madeira nos Estados Unidos para fazer habitação com material exótico e isso gerar aqui oportunidades de contrabando de madeira, a gente tá realmente com dificuldades.
Então, nós precisamos descolonizar nosso pensamento, no sentido de enxergar como nós gostaríamos de viver bem e pode ser que a gente não precise exportar tanto. Tem estudos que mostram que alguns desses produtores deixam muito pouco desses produtos nos municípios, então, como aquela cidade vai ser sustentada?
Ela recebe uma mão de obra masculina concentrada que vem pra ganhar dinheiro em um curto espaço de tempo. Mandam esse dinheiro pra fora e ali fica o impacto, inclusive ambiental, além de social. É preciso rever essa nossa inserção para que a gente deixe de se ver como periferia, se coloque a partir de nós mesmos e repense uma série de práticas. As nossas cidades poderiam ser laboratórios fantásticos para isso porque agora, seja lá como for, a gente está em uma situação intermediária.
Tem cidades que são de um tamanho razoável, pelo menos no estado do Pará, distribuídas e, a partir delas, o que a gente observa é a difusão dos valores justamente do agronegócio, numa perspectiva de ganhar dinheiro para reproduzir as condições das grandes cidades. Em Santarém, agora as pessoas agora vendem apartamentos por mais de um milhão de reais que permitem que a visão do rio seja contemplada e aquilo se dissocia completamente do nível da rua. Não quero saber o que acontece na rua, quero saber que estão vendendo uma vista que está ali, então começa um processo de alienação com a natureza muito grande, com a vida social, inclusive.
Discutir essa sustentabilidade seria uma coisa extremamente importante para que a gente pudesse perceber que já tem muito disso. Vai em um município que seja repleto dessas comunidades, como eu falei ainda a pouco, o caso ali do Baixo Tocantins, a gente vai ver que muita gente anda de bicicleta de uma localidade para outra. Não é preciso ter uma avenida, uma rodovia articulando esse espaço, é preciso ter uma rota, uma trilha que seja sombreada para que as pessoas possam andar como elas quiserem. Enquanto aqui estão estimulando a redução do uso de combustíveis fósseis, o nosso nativo sempre fez isso.
A gente tem que rever práticas que são muito frequentes, muito comuns aqui e reeditá-las, transformá-las em coisas de maior apelo, porque pode ser que assim a gente já perceba muita coisa que é favorável para essa realização do objetivo 11, mas que está escondida. A gente acaba antes de pensar nesses aspectos, priorizando outras coisas, que são relacionadas mais a essa visão mais macro e que não deixam soluções para nós, sempre remete o recurso que é gerado para outros lugares.
ANA CLÁUDIA: A gente podia diferenciar a situação de bairros da área mais central mais altos, das baixadas, das áreas de expansão e do que acontece nos municípios vizinhos e nas ilhas. Só ali já se vê uma série de diferenças. A gente vai perceber como os investimentos são usados porque, o que acontece? A política é genérica, tu tens dinheiro do BNDES para fazer canal e se quiseres ter acesso a esse dinheiro, é isso que tens que propor. Aí faz-se o projeto ou então as macrodrenagens que nós fizemos, que sempre foram caríssimas. Cada uma em seu turno custou entre 150 e 200 milhões de dólares, é muito dinheiro.
Precisa chegar a uma situação muito grave, constituir um empréstimo, essa ação não é articulada interdisciplinarmente porque eles fizeram uma ação de saneamento, não articularam isso com valorização da terra, não criaram ali mecanismos para garantir que a cidade pudesse se beneficiar. A gente vai sempre se subordinando ao que o mercado quer porque temos uma elite que é muito nociva e essa é uma questão muito interessante, porque ela é histórica. Essa nossa elite sempre foi constituída por pessoas que vieram de fora, que vieram exercer cargos na época da borracha e que vinham de outros lugares. Nunca se teve o amazônida trabalhando a definição da agenda.
Isso não é só Belém, se formos em Manaus vamos ver que eles também assumiram a agenda de São Paulo. Lá tem o caso da cidade flutuante, tem um artigo falando da ocupação flutuante em Iranduba – que equivale a Ananindeua para nós – onde a população pôde viver por décadas sobre troncos de Assacu. Aquilo cria uma situação da pessoa poder, quando deseja, mudar o seu vizinho, porque ela só faz mudar o seu flutuante de lugar. Eles acoplam um flutuante para fazer festa, com só um assoalho, aí cria como se fosse um salão. Eles tem flutuantes só para planta, tem flutuante para tanque de pirarucu, e ali eles criam uma dinâmica que acompanha as secas e cheias do rio, só pra dar uma ideia para vocês.
Na época da Zona Franca, isso foi execrado como atrasado. Era pra ser destruído e eles assumiram que todo mundo iria morar em conjunto habitacional bem longe e que seriam funcionário das indústrias, mas isso não aconteceu. A gente não consegue gerar emprego aqui na Amazônia para todo mundo, sempre tem uma parte da população que precisa continuar vivendo daquilo que ela sempre fez e a gente precisa disso porque gera nosso alimento.
Tem uma dinâmica própria, a gente não consegue substituir, é lógico. Lá em Manaus, isso gerou conjuntos habitacionais bem distantes. Lá em Altamira, pegaram os indígenas que viviam no Baixão do Tufi, 16 mil indígenas e colocaram bem longe, essas pessoas ficaram sem ter dinheiro para pagar o transporte para chegar na beira da cidade e poder ir trabalhar na reserva onde eles trabalhavam nas ilhas. As pessoas não entendem como se vive aqui, quando chega a política ela pode estar sendo cumprida mas ela é um desastre, porque não é adaptada para a forma de vida daqui.
A nossa elite culta, essa que vai pra universidade – porque a universidade foi construída só para gente rica e branca – acha que é essa a solução e o que a gente teria de solução em um lugar decente é ter o máximo de grupos da nossa diversidade representados nesses lugares onde se pensa, onde se formula a política, e onde se define solução. Enquanto não absorver nessa tomada de decisão a representação dos indígenas, dos ribeirinhos, dos camponeses, dos assentados, enfim, vai ser sempre um negócio que está no modelo da cidade e nunca vai dar certo.
A gente só cria possibilidade de mais gentrificação, mais elitização, porque aí o pessoal vê que chegou uma estrada ali naquela região para Benevides e diz: “Eu quero é morar em um condomínio de final de semana lá, eu quero ter uma casa de final de semana”, aí eu tiro o nativo e vou morar porque aquilo ali que é o legal, ali tem natureza; mas aqui na cidade não tem mais natureza porque eles próprios acabaram com a natureza, aí tem que expropriar cada vez mais gente.
Transcrição por: Isabela Ferreira
Revisado e Editado por: Ana Luiza Souza
Transcrição da entrevista dada ao PodCast Papo da Cidade para o Projeto Belém 40º, realizado pelo Laboratório da Cidade em conjunto com o Instituto Clima e Sociedade (iCS).