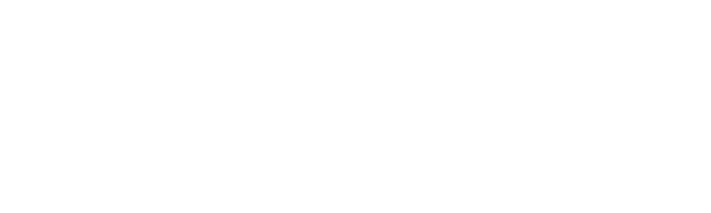Nos últimos meses, assistimos ao alastramento da crise do COVID-19 pelo Brasil. No momento em que escrevo este texto, já passamos de 1,5 milhões de casos registrados no país, e já perdemos mais de 64 mil vidas. É, sem dúvida, a maior tragédia pela qual a nossa geração já passou. No entanto, quando analisados com mais atenção, os números da COVID-19 no Brasil nos dizem, também, outras coisas mais.
Apesar de registrar número de casos menores que o da região Sudeste, epicentro da doença no Brasil, as regiões Norte e Nordeste ocupam o primeiro e segundo lugar nas taxas de incidência e de mortalidade, respectivamente: enquanto a taxa de mortalidade por 100 mil habitantes no Brasil é de 30,6, no Nordeste ela é de 36,3 e no Norte é 54,0 – 24 pontos percentuais acima da média nacional¹.
Ao analisar o perfil das vítimas, a consultoria Lagom Data, por meio de pesquisa encomendada pela revista ÉPOCA², identificou que, no Brasil, a doença matou mais pobres e pardos, mais homens que mulheres, e mais jovens do que em outros países onde a pandemia colapsou o sistema de saúde. Estes números, por sua vez, também se distribuem de maneira desigual. Ao passo em que pardos e pretos representam 54% da população brasileira, eles representam 61% das vítimas cuja cor foi identificada. No Norte, onde 76% da população é autodeclarada como parda e preta, essas vítimas representam 86% do total, e no Nordeste, 82%, ainda que a população parda e preta seja de 70%.
Portanto, não é com surpresa (ainda que seja com indignação) que constatamos que, no Brasil, a COVID-19 tem um público-alvo: homens, jovens e negros, principalmente nortistas e nordestinos, colocando em vulnerabilidade ainda maior a população que mais morre por violência no Brasil. E se cruzarmos essas informações com o dado de que 96% das mortes que ocorreram após a internação foram de vítimas que residiam em zonas urbanas, podemos inclusive localizar onde essa doença mais mata no Brasil: nas periferias das cidades.
Diante disso, parece correto afirmar que a crise do COVID-19 traz à tona, novamente, a crise urbana brasileira. Esse tema foi amplamente discutido após a última crise global do capitalismo, em 2008, pelos movimentos sociais subjacentes – o Occupy Wall Street (EUA), os protestos da Praça Tatskim (Turquia), a Primavera Árabe (Oriente Médio e Norte da África) e, dentre muitos outros, as Jornadas de Junho no Brasil. Demandando particularidades próprias de cada território, estes movimentos se uniram em uníssono contra as estratégias governamentais de recuperação econômica que, em sua grande maioria, priorizaram a saúde financeira dos bancos e grandes empresas ao bem-estar social. Em processo semelhante, vimos eclodir recentemente diversos protestos no mundo todo que, iniciados pelo movimento Black Lives Matter, repudiando o racismo e a violência policial institucionalizada, logo se viram também tomados por gritos contra o neofascismo em ascensão pelo mundo, particularmente no Brasil.
E onde a cidade se posiciona em meio a toda essa crise? Tal qual a crise e os movimentos sociais de 2008 tiveram um caráter fundamentalmente urbano, os protestos recentes buscam, também, evidenciar que a crise vivida nas periferias não é a mesma vivida pelas demais partes da cidade. Vemos com isso que, na medida em que a cidade passa a se apresentar pela sua negação, isto é, a impossibilidade de manutenção da própria vida, ela parece cada vez mais retomar sua essência política. Não apenas o espaço onde ocorrem os protestos, mas realidade material a partir da qual as demandas emergem.
A partir dessas observações, gostaria de destacar alguns pontos que me parecem fundamentais para entendermos melhor o papel que as cidades ocupam nos momentos de crise e, com isso, trazer algumas reflexões sobre como o debate urbanístico pode contribuir para criar uma estratégia de (sobre)vivência pós-crise.
Para tanto, é preciso lembrar que a cidade é uma mercadoria; não uma mercadoria qualquer, como bem frisou Ermínia Maricato em Para Entender a Crise Urbana (2015)³, mas ainda assim, uma mercadoria. Isso quer dizer que a cidade pode ser produzida, vendida e comprada. É na esteira desse processo que vimos emergir, nos últimos anos, uma quantidade enorme de novos prédios e condomínios fechados nas cidades brasileiras, por exemplo. Apesar de parecer que foi sempre assim, essa noção da cidade como algo que pode ser produzido industrialmente, em escala, é recente e vem se construindo com mais força a partir dos anos 1960 com o fortalecimento do pensamento Neoliberal. A partir de então, a cidade passou a ser vista como o próprio negócio ou mercadoria, e existe uma diferença substancial entre ser o palco onde as coisas acontecem e ser o objeto central do processo de acumulação (Maricato, 2015).
A transformação da cidade em mercadoria criou uma cultura na qual os investimentos de intervenção urbanística são direcionados não de modo a beneficiar as localidades que mais precisam, mas aquelas que garantam o retorno financeiro mais rápido e eficiente possível, o que restringe tais recursos às regiões tradicionalmente ocupadas pelas elites – bairros centrais com boa oferta de serviços e infraestrutura. E isso, em parte, nos ajuda a entender porque os investimentos para o combate ao COVID-19 não são direcionados para as regiões da cidade com maior incidência da doença.
No entanto, trago essa constatação, a de que a cidade é hoje lida como mercadoria, para apontar as limitações desse pensamento que se fez dominante. Por essa perspectiva, assume-se que os passivos urbanos (as desigualdades, a destruição da natureza etc.) são inerentes ao processo de urbanização, encobrindo a real origem destas problemáticas: o sistema capitalista neoliberal. A cidade enquanto processo não origina a desigualdade, mas enquanto produto do Neoliberalismo, sim. E é preciso sublinhar que a lógica de limitar a experiência da cidade pela renda é uma lógica de limitação da própria liberdade, porque restringe, também, a criatividade, o conhecimento, os afetos, as relações e, curiosamente, o próprio desenvolvimento econômico na medida em que limita a diversidade, elemento fundamental para o crescimento da economia (Jacobs, 2001).
Esse processo de transformação da cidade em mercadoria transferiu o campo de tensão, antigamente restrito às fábricas e à realidade dos trabalhadores, para a experiência cotidiana dos processos urbanos e, por isso, é possível falar da cidade como o espaço privilegiado das lutas que desafiam o sistema vigente (Harvey, 2015). O que David Harvey coloca com essa constatação é que, justamente por gerar as insatisfações a respeito da vida que levamos, o urbano tem o potencial de ser o instrumento político primeiro das lutas antissistêmicas.
Foi o que fizeram alguns movimentos sociais na última crise, como o Ocupe Estelita (Recife) e o Praça da Estação (Belo Horizonte) ou, mais recentemente, o G10 das Favelas, grupo que reúne entidades das dez mais populosas favelas do Brasil. Partindo da contestação de ações de intervenção do espaço urbano que utilizavam recursos públicos para privilegiar planos de especulação imobiliária ou da ausência de serviços básicos em bairros periféricos, estes movimentos se transformaram em vias de ativismo para reclamar uma vida urbana de melhor qualidade e uma cidade menos desigual. De um único ponto da cidade, irradiaram movimentos capazes de transformá-la por inteiro.
O urbano aparece então, nessa perspectiva, como um princípio político mais do que como uma forma espacial. Para Henry Lefebvre (2001), um dos maiores pensadores do tema, o urbano é o princípio político garantidor do direito à cidade, entendido aqui como o nosso direito de exercer plenamente nossas capacidades humanas, ativamente participante das decisões coletivas e totalmente integrados à vida nas cidades. Posto isso, é possível falar da urbanização e das cidades não apenas como perpetradores de desigualdades históricas, mas como um campo de produção de práticas alternativas com a potencialidade de aproximar o real e o possível, criando assim aberturas para o não conformismo.
Mas na prática, o que isso tudo significa? Em primeiro lugar, que a cidade não é apenas condicionada pela nossa ação, mas também condiciona nossos comportamentos, sendo assim um produto social, como afirma Lefebvre em A Produção do Espaço (2007). Logo, falar em um mundo menos desigual e capaz de sustentar a vida no pós-crise atravessa, necessariamente, o campo da construção de cidades menos desiguais; se é na cidade que os corpos marginalizados transitam, é a cidade que precisa dar conta de sustentar essa vivência. E é a partir dos descompassos entre a vida que se quer e a vida que, efetivamente, vivemos que novas insurgências podem emergir.
Em segundo lugar, que o nosso conceito de cidade é limitado e apenas um dentre um universo de possibilidades. A ideia de que todas as cidades poderão, um dia, ser iguais às cidades europeias, ou, ainda, que todas as cidades brasileiras serão São Paulo, é uma falácia e está circunscrita naquilo que o economista brasileiro Celso Furtado (1974) vai chamar de “mito do desenvolvimento econômico”. Precisamos, portanto, construir outras referências do possível e isso diz respeito a olhar para a periferia: seja a periferia das cidades (as favelas e baixadas), seja a periferia do mundo (cidades africanas, cidades amazônicas).
Por fim, para articular o pensamento e a ação, ou seja, para construirmos cidades capazes de dar sustento a uma vida menos desigual, é preciso explorar alternativas ao sistema-mundo vigente a partir de dentro (negando que exista um lugar fora da nossa realidade) através do destaque de práticas já existentes que apontem para outros caminhos. A cidade (e a vida) que queremos não será outra que negue por completo o que está posto como realidade hoje, mas surgirá a partir desta. E nesse sentido, acredito ser essencial olhar para práticas do cotidiano que passam como triviais ou banais, mas que sugerem outras formas de organização da vida – as cooperativas de agricultura urbana, os coletivos de autoconstrução de casas em periferias, o trabalho feminino do cuidado, as produções artísticas e acadêmicas de pessoas transexuais, dentre uma imensidão de outras possibilidades – porque é apenas a partir desse fazer diferente, desse fazer subversivo, que poderemos falar em (sobre)vivência no pós-crise.
A crise do COVID-19 foi a fagulha. Precisamos, agora, acender a fogueira.
REFERÊNCIAS
¹ Fonte: https://covid.saude.gov.br/. Acessado em 05/07/2020, às 15h30.
MARICATO, E. Para Entender a Crise Urbana. CaderNAU-Cadernos do Núcleo de Análises Urbanas, v.8, n. 1, 2015, p. 11-22. Link: https://periodicos.furg.br/cnau/article/viewFile/5518/3425
JACOBS, Jane. A Natureza das Economias. São Paulo: Beca Produções Culturais, 2001.
HARVEY, D. Espaços de Esperança. 7ª ed. São Paulo: Edições Loyola, 2015.
LEFEBVRE, H. The Production of Space. Oxford: Blackwell Publishing, 2007.
LEFEBVRE, H. O direito à cidade. São Paulo: Centauro, 2001.
FURTADO, Celso. O mito do desenvolvimento econômico. 3ª ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1974.

Por Lucas Cândido. Arquiteto Urbanista. Mestre em Arquitetura e Urbanismo, com foco de pesquisa em estudos urbanos. Alumni Vetor Brasil. Consultor de Gestão Estratégica em projetos para o setor público na Macroplan Consultoria.